Quando os fatos mudam: ensaios (1995-2010) – Tony Judt
Tradução: Cláudio Figueiredo – Editora Objetiva
Ano de Lançamento: 2015 – Minha Edição: 2016 – 440 páginas
Nós, nascidos no apagar das luzes do século XX, também conhecidos como Millenials, somos a última geração que entende o século passado – uma última geração que tem um pé em uma época analógica e outra no digital – uma posição privilegiada de saber que existiram, por exemplo, duas Alemanhas ou que não necessariamente tudo pode, ou deve, ser resolvido através do celular. Entretanto, para os que vieram antes de nós, a virada para o XXI foi um choque, especialmente para, dentre estes, os intelectuais que dedicaram sua vida para entender o seu próprio tempo.
Eric Hobsbawm, com Democracia, Globalização e Terrorismo, ou Marc Ferró com A Reviravolta da História, são alguns do esforços de historiadores do século XX para entender o que começou a se passar no mundo a partir da década de 1990. Esta aqui é a contribuição do britânico Tony Judt, notório estudioso do período pós-guerra, em uma seleção de artigos sobre a contemporaneidade, feita postumamente por sua esposa, Jennifer Homans.
O livro, apesar de organizado cronologicamente, é também muito habilmente dividido em temas: a década de 1990 e o mundo pós-socialismo; a questão de Israel x Palestina; o 11 de Setembro e a Guerra ao Terror; um balanço “social” da década de 2000 e alguns obituários – estes últimos dois capítulos já são bem singelos e dispersos devido ao agravamento da doença que o levou a morte precoce, em 2010.
Entretanto, se a organização é muito bem feita, a seleção já não é tanto – especialmente para o público de fora dos Estados Unidos, como nós. A grande maioria dos artigos selecionados tratam-se de resenhas de livros publicadas na tradicional revista especializada The New York Review of Books. Como eu bem sei, fazendo exatamente essa mesma coisa nesse mesmo exato momento, escrever resenha literária é um trabalho ingrato – normalmente só faz sentido se for lido por quem leu o livro, ou pelo menos sabe do que se trata. Neste caso aqui, com duas únicas exceções, nenhum dos livros resenhados foi publicado no Brasil. Você lê, lê e lê e consegue pinçar, talvez, uma ou duas reflexões interessantes dos artigos.
Trata-se, aliás, de uma leitura muito cansativa e repetitiva. Se no primeiro capítulo são resenhas de livros que você nunca ouviu falar – com a exceção de um comentário sobre Era dos Extremos – no segundo, temos uma série de artigos com o mesmo posicionamento acerca do Estado de Israel. Na realidade, um importante e louvável posicionamento, denunciando as políticas genocidas israelenses e, especialmente, uma severa acusação ao governo dos EUA com sua chancela automática a quaisquer políticas tomadas pelos aliados no Oriente Médio, por mais sangrentas e catastróficas que se mostrem. Entretanto, ainda assim, culpa especialmente da seleção, tratam-se textos escritos próximos uns dos outros, tratam praticamente do mesmo assunto e, inevitavelmente, apresentam as mesmas reflexões do autor.
Por outro lado, apesar da crítica à administração estadunidense, as coisas tomam um tom cada vez mais provinciano no livro; característica que fica muito latente no terceiro capítulo, sobre o “11 de setembro e a Nova Ordem Mundial“. O autor, apesar de britânico, a todo momento usa “nós” para se referir aos EUA e à sociedade americana. O que nunca deixa de ser ridículo, e um cacoete de políticos do país; “nós devemos nos posicionar” “nós devemos criticar“, em uma forma totalmente abstrata; toda página com essa eu grifei, perguntando: “nós, quem?“. Como se a opinião daquele grupo de pessoas reunidas sabe-se lá onde, no instituto não sei das quantas, que o próprio fundou, onde ele leu aquela fala, corresponde e representa toda população do país.
E essas opiniões, da perspectiva de alguém que espera uma avaliação crítica de um intelectual renomado, são um show de horrores. É como estar assistindo ao discurso de um presidente moderado de qualquer seriado ou filme blockbuster americano. Plenos anos 2000, com invasão simultânea de Iraque e Afeganistão, Oriente Médio sendo destruído e o cara com uma conversa mole de que os EUA “precisam tomar cuidado com seus posicionamentos“. E o melhor é o motivo: há uma longa exposição sobre a ONU, Geopolítica, Relações internacionais para concluir que os EUA dependem de uma relação de confiança com o resto do mundo, pois são o único país capaz de fazer às Nações Unidas funcionarem para o bem. Juro por Deus. Em um texto de 2005, ele critica a não intervenção americana no Darfur, no Sudão, avisando que isso pode fazer “os Estados Unidos deixarem de gozar da credibilidade como uma força a serviço do bem” (p. 287).

Há, claro algumas reflexões teóricas boas, como justamente entender que os EUA que são sempre o fiel da balança para saber se ações da ONU terão ou não validade; por exemplo. Mas também há muita ingenuidade intelectual e crítica, como, mantendo nas mesmas questões, que são alvos de 3 artigos – outra sequência muito repetitiva da edição – ele não compreender que as Nações Unidas, ou a Liga das Nações previamente, não têm como objetivo promover a paz na Terra nem proporcionar um futuro melhor à humanidade, como ele sugere tantas vezes; e sim promover a paz entre as potências (e o sucesso nisso é a diferença de sua antecessora, aliás). Isso aí qualquer graduando de história aprende sobre o século XX.
O quarto capítulo, com uma perspectiva mais social, têm seus bons momentos: uma discussão sobre transporte público e ferroviário aliada a outra crítica às Privatizações e ao Estado Mínimo são o ponto alto do livro – ele faz uma conexão ótima com políticas da França do Antigo Regime. Entretanto, escorrega sempre nas suas conclusões. Por exemplo, Judt tem um raciocínio desastroso ao avaliar o declínio da Social Democracia: partindo já da premissa errada, de que ela está enfraquecida porque a direita mundial atualmente já ofereceria as vantagens que a centro esquerda poderia oferecer; ele avalia que a única chance desse campo político (que não entendi se é a corrente a qual ele se filiaria mais) seria então apelar para uma política do medo (p. 359 e 416) – difícil achar algo mais pós-11 de setembro que isso. A sobrevivência dos socialdemocratas dependeria de explicar população que se ela continuar apoiar o neoliberalismo, ela vai perder seu emprego e seus direitos.
Complicado um historiador do século XX avaliar desse jeito; que o medo é algo positivo para democracia. Isso é um atestado de alguém que não entendeu absolutamente nada do que se passou entre 1901 e 2000. Mas é o que faz sentido quando encaramos o principal elefante na sala do livro; o autor é profundamente anticomunista e adepto, ainda que de forma muito refinada, da teoria da ferradura. Desde as primeiras páginas, no assunto historiografia, quando, resenhando sobre um livro da história da Europa, ele avalia que apesar da Cortina de Ferro, os historiadores ocidentais da segunda metade do XX já escreviam a História da Europa Oriental mais ou menos certinha, como deveria ser mesmo – ignorando ideias e debates óbvios, que já existiam no período, como orientalismo. Isso se repete em reflexões sobre o presente, quando todos os exemplos ruins de qualquer tema, política, economia ou sociedade, são referentes à China; ou, ainda, em um dos obituários, no qual rasga de elogios um autor polonês que tratava o marxismo como algo, literalmente, demoníaco e obra da pura maldade (sim, isso mesmo).
Para além das desavenças políticas, isso enfraquece muito toda a obra pois turva suas análises. Isso nos exemplos citados até aqui, mas também, em outros, como nas avaliações sobre a social democracia. Retomando, que ele critica as privatizações de monopólios naturais – como transporte público – mas não chega na raiz de nenhum problema (sequer usar o termo neoliberalismo para a política econômica dominante). E, mais latente, no pior exemplo: quando cita, que, em 2007, estamos vivendo há meio século de segurança e prosperidade. Isso é uma avaliação completamente maluca, absurda, louca, para qualquer historiador. Um dos grande marcos do século passado são as crises do petróleo, iniciadas em 1973, que encerram os anos dourados do capitalismo, um ponto pacífico da historiografia – mas, aí faria sentido se essa suposta bonança que ele enxerga seja correspondente ao declínio do socialismo.
Poderia citar outros tantos exemplos de pontos em que há discordância, especialmente uma análise rasa sobre história e memória no século XXI, como se fosse novidade sua manipulação, sendo, na realidade, uma característica do nacionalismo desde o XIX (veja abaixo), mas este texto se transformaria em algo muito detalhado. Poderíamos argumentar que, como são ensaios ou falas públicas, faltaria espaço para Judt se aprofundar; mas veementemente não acredito que seja o caso, pois não se tratam de panorâmicas sobre alguns temas, mas sim que ele já parte de premissas equivocadas do ponto de vista do debate historiográfico.
E mesmo se fosse, mostraria o tom extremamente provinciano da produção do autor; escrito para um seleto público de “neoliberais esclarecidos” dos Estados Unidos que acredita que o país até apoiou regimes questionáveis na América Latina, mas havia uma “certa lógica” nisso e os EUA foram “uma presença benévola e necessária no mundo entre 1950 e 1990 (p. 258)”. Em vários aspectos, lembra textos propagandísticos travestidos de produção intelectual, como as obras de Huntington e Fukuyama. Por exemplo, ao citar que a jurisdição da ONU não funciona por conta de “poderoso[s] Estado[s] não-libera[is] não admite[m] nenhuma interferência externa em seus negócios domésticos” (p. 276), usando a divisão deste último do mundo entre liberais e não-liberais (e, novidade, usando China e Rússia como exemplos) e, especialmente, colocando subentendida uma oposição de que os estados, então, liberais aceitassem, de muito bom grado e boa vontade, qualquer interferência internacional em seus assuntos.
Uma livro com relevância ínfima para um leitor de fora do Estados Unidos, exceto se o seu objetivo for entender propaganda americana.
Ruim (2/5)
Uma seleção ruim e repetitiva de textos do autor, repleto de lugares comuns e ideias provincianas dos Estados Unidos. Na melhor das hipóteses, uma reunião de falas rasas para uma plateia de neoliberais esclarecidos.
Ferrovias – Dois dos últimos capítulos da obra são versões preliminares de textos escritos na preparação um livro que o autor acabou não conseguindo concretizar antes de sua morte; publicados postumamente como artigos. O tema é o transporte ferroviário – e sua relação com a urbanização. No caso do contexto Estadunidense, em especial, esse modal é bastante menosprezado em troca do uso do carro e do avião.
Judt enaltece o papel dos trens como um aspecto da vida coletiva e citadina, através de um transporte público rápido e de massa; a importância da arquitetura das estações e seu papel na urbanização dos grandes centros. São todos espaços de vida comunitária e que resistem, desde sua introdução no século XIX, se mantidos como parte integrante das políticas públicas, às diversas inovações e transformações. Mas resistência um bom sentido, como testemunha de sua funcionalidade e sucesso.
Ele começou a ensaiar uma crítica atrelando o neoliberalismo ao menosprezo do transporte ferroviário – relembrando da desprezível Thatcher e sua completa renegação ao uso de trens – mas não conseguiu levar adiante a obra.
PPPs e Corrupção – Qualquer análise de privatizações e concessões de serviços públicos essenciais, especialmente no que toque às Parcerias Público Privadas, logo transparece tratar-se de um grande esquema de desvio de verba pública legalizada e institucionalizada. No caso específico do tema do transporte ferroviário, as recentes concessões das linhas de trens metropolitanos de São Paulo escancaram o caráter de corrupção desse tipo de prática. A CCR controla 4 linhas, através de suas subsidiárias, na Via Mobilidade e presta o pior serviço de transporte já visto na cidade; e ainda acaba abocanhando mais de 90% da receita tarifária das outras 9 linhas, onerando as estatais; escapa de várias multas e quando é multada, recebe perdão da dívida para “converter em investimentos” – que supostamente seriam feitos pela iniciativa privada através da concessão.
Apesar de vender-se como alto extremamente moderno, Judt relembra que essas políticas são, na realidade muito antigas. Além das ferrovias terem nascido como empreitadas privadas, para serem e encampadas pelos Estados Nacionais ao longo do século XX após tornarem-se pouco lucrativas, ele lembra que iniciativas como PPP já existiam desde o Antigo Regime: a França, as vésperas da Revolução de 1789, dispunha de um grande rede de empresas privadas coletoras de impostos (chamados de fermiers généraux), que acabavam por controlar o erário público em contratos renovados 6 em 6 anos.
História e Memória – Durante o capítulo “o que aprendemos, se é que aprendemos alguma coisa?“, escrito em 2008, o autor faz uma reflexão constrangedora sobre o tema da memória. Ele demonstra preocupação com que a última virada do século viu o reconhecimento – e consequente monumentalização – de diversos atentados e ataques étnicos ou terroristas; como os genocídios armênio, bósnio ou ruandês; sobre o ataque nas Olimpíadas de Munique ou o 11 de setembro. Isso, por sua vez, passaria uma mensagem de superação desse tipo de episódio histórico, no sentindo que isso não ocorreria mais; além de criar narrativas do passado cada vez mais restrita a grupos e não a um passado comum.

Não são questões erradas que ele está trazendo; entretanto, elas não são novidade, nem de longe. Todo o movimento do nacionalismo iniciado no século XIX partia desses mesmos princípios – o livro mais importante sobre o tema é Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, que resgata uma das maiores citações sobre o tema, de um filósofo em 1882: “a essência de uma nação consiste em que em que todos os indivíduos tenham muitas coisas em comum, e também que todos tenham esquecido muitas coisas“.
Apesar de falar 150 anos depois; alarmado, Judt até diz: “o passado agora só adquire significado por meio de referências às nossas […] preocupações atuais” (p. 312) – agora? Não tem disciplina de Teoria da História nos Estados Unidos, não?
Há algumas outras considerações muito confusas: tal qual a sobre como os componentes religiosos e étnicos sendo marginais para “cometerem atrocidades”, enquanto “a guerra” [total, inaugurada pela I Guerra Mundial] que, na verdade, permitiria eventos como genocídios e atentados. Mal dá para entendermos o que ele quis dizer, mas é uma escorregada grande para um historiador uma afirmação dessa. Eventos passados de massacres ou expulsões étnicas existem há muito; talvez mais próximo dos que conhecemos atualmente sejam os Pogroms, inaugurados no século XIX, mas perseguições religiosas ocorreram na Europa, pelo menos, desde a Idade Média, assim como todos os povos deslocados por conquistas ou colonização na Idade Moderna, independente do Estado de Guerra ou não desses povos.
Pode até ser que ele se refira muito específica contexto americano – faz algumas críticas ao fato dos EUA serem a única grande democracia a fazer adoração aos militares, e talvez trate-se alguma tentativa de mostrar que os islâmicos não seriam uma religião naturalmente dedicada à violência e sim que há um contexto político por trás – mas ainda assim reforça o caráter raso e provinciano do livro. Espera-se que os leitores não sejam muito mais do que os espectadores das palestras dele no instituto que criou em Nova Iorque – o que também não é desculpa para nivelar por baixo e fazer reflexões tão problemáticas assim.
Últimos Posts
Fundação
Um historiador afirma que a civilização humana está colapsando sem chance de reversão; mas ele tem a solução. Com a Fundação uma recuperação é possível em “apenas” mil anos – em oposição aos 30 sem seu plano.
Os Anéis do Poder – 2ª Temporada – Melhorou em tudo
A segunda temporada de Os Anéis do Poder conseguiu melhorar em todos os aspectos; em uma versão muito mais sombria com o aumento da influência de Sauron na Terra Média.
Retrospectiva 2025
Um ano de poucas postagens, mas mantivemos o mesmo nível de visualizações. Um excelente 2026 a todos!
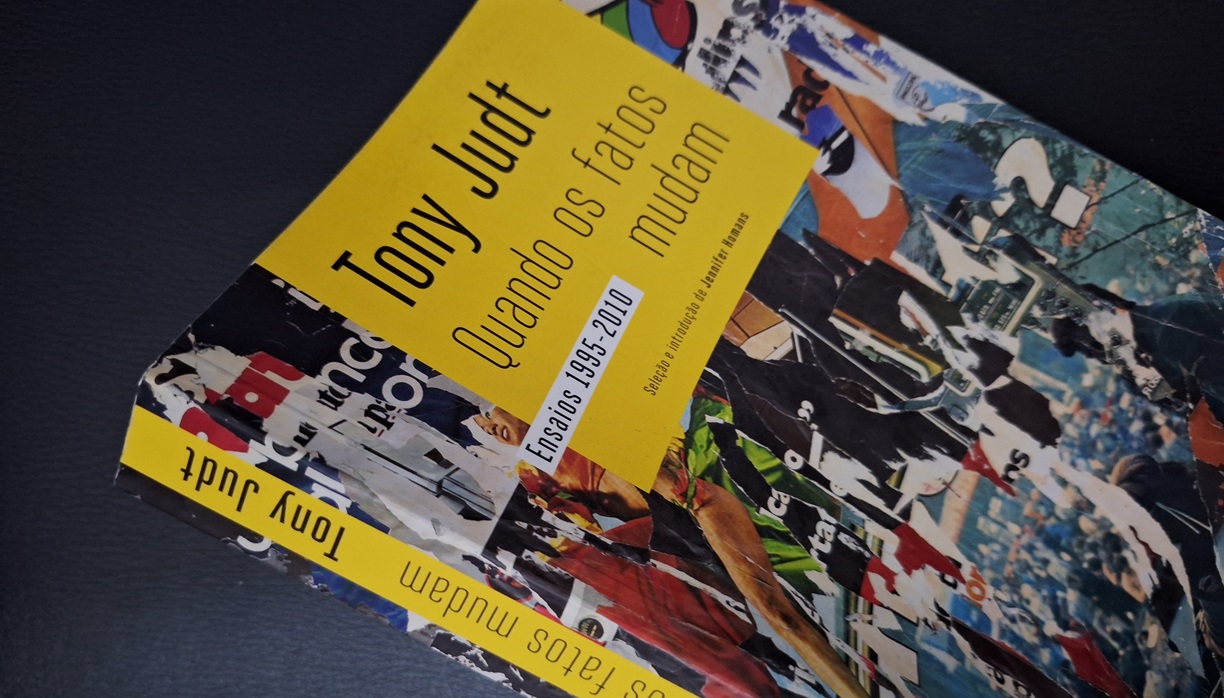



2 comentários em “Quando os fatos mudam”